"Na hora do desastre, só o enraizamento na história pode dar a confiança necessária para transformar o presente" - Ivan Illich
DA COMUNA AO SINDICATO E DO SINDICATO À COMUNA por TERESA MARIA MARTINS DE CARVALHO
Penso que o homem não é capaz de formar no seu espírito projecto
mais vão e mais quimérico do que pretender, quando escreve sobre
qualquer arte ou qualquer ciência, escapar a toda a espécie de crítica e
grangear a aprovação de todos os seus leitores. - La Bruyère
I - A COMUNA
A multidão não deixa de ser multidão mesmo se estiver bem alimentada, bem vestida, bem alojada e bem disciplinada. - T. S. Eliot
O povo é o conjunto de uma multidão racional, associado na comunhão concorde das coisas que ama. - Santo Agostinho
I
Comuna foi a palavra lançada a desfavor dos ventos e
marés dos socialismos abundantes depois do 25 de Abril e eis que ficou
enigmática e brilhante como estrela nova em céus desvendados, portadora
de múltiplas ressonâncias, tanto revolucionárias como longa e
medievalmente tradicionais.
E esta palavra, assim aparentemente paradoxal que
sugere subversão, parece acordar também o eco longínquo de certa
liberdade julgada há muito extinta no altar das massas e do Estado: a
liberdade de cada um.
Ao mesmo tempo desperta em nós o desejo e as forças de
um amor comum por algo de comum, ainda indefinido mas perto de nós,
alcançável, interpretado e açambarcado por sistemas e partidos mas que
os ultrapassa sempre, os gasta e corroí porque nasce a cada momento da
liberdade de cada momento.
II - O QUE É A COMUNA
Nada queremos da república dos burgueses nem da monarquia dos plutocratas! - António Sardinha
Não há meio termo: a comuna ou será soberana ou sucursal; ou tudo ou nada. - J. Proudhon
Não nos cabe a tarefa de nos ocuparmos de maneira funda
e completa das raízes históricas da comuna, do seu lugar e papel na
sociedade anterior à era industrial e sobretudo da sua importância como
elemento estruturante do nosso País.
Outros o fizeram com a competência mais que bastante e
necessária e a eles recorrerá quem desejar documentar-se mais
fartamente.
Precisamos, no entanto, de nos referir embora por alto
às suas linhas essenciais para desenvolvermos de modo prudente e claro a
reflexão que nos compete aqui e hoje. É sempre preciso começar pelo
princípio.
E o princípio foram comunidades há séculos radicadas em
vales e montes e ao longo dos rios, com organizações já complexas,
pois o aparecimento do homem agricultor tornou automaticamente mais
complicada a definição do poder. Anteriormente, aos chefes caçadores ou
pastores pouco fora preciso para delimitarem os agregados familiares ou
o aglomerado de vizinhança. Mas, em seguida, a atribuição das terras
de amanho não se mostrou tão fácil. De todo o malabarismo de contratos,
privilégios, direitos, deveres, obrigações, isenções, foros, usos e
costumes estabelecidos quer no povo entre si, quer entre este e o dux, o rex
ou a Igreja, resta-nos ainda em certas povoações nossas, o sabor
ancestral de misteriosas divisões de águas, o uso dos baldios, o cunho
de certas romarias e a persistência anacrónica de confrarias.
Mas não olhemos como puro folclore para estas
reminiscências. Elas demonstram sobretudo a profundidade da sua razão
primeira, que as fez resistir, não só ao «progresso» actual,
televisionado ou não, mas sobretudo, através de séculos, às reformas
pombalina e liberal, centralizadoras e de administração burocrática.
Esta resistência, este apego aos usos e costumes da
«sua terra» constitui no povo português o contraponto à sua visceral e
eterna desconfiança para com toda e qualquer disposição governamental. A
memória persistente de velhos direitos perdidos e profanados, de uma
autonomia antiga criadora de dignidade e de cultura, faz com que a
maioria dos portugueses, como notou, com espanto, alguém estrangeiro
vivendo entre nós, possua sempre a «sua terra» e que não é normalmente
aquela em que se vive, eternos exilados dentro da nossa Pátria, por
força das conveniências ou inconveniências dos governos centrais,
distribuidores arbitrários, desarmonizadores e tecnocratas, de
mão-de-obra e de serviços ao jeito do capitalismo.
III - VIDA E MORTE DA COMUNA
Nós somos livres e o nosso Rei é livre. - Proclamação nas Cortes de Lamego em 1143
Assim instituídas, as Cortes, se não foram o fundamento da liberdade
municipal, base da única liberdade verdadeira que, em nosso entender,
tem existido no mundo, e talvez a única possível, foram por certo desde
essa época uma grande manifestação dela e, até certo ponto, uma
garantia da sua conservação. - Alexandre Herculano
Toda a vida medieval portuguesa era um emaranhado de
contratos, regalias, corporações, corpos e municípios que tentavam
engrenar o poder do Rei com as liberdades de cada comunidade, fosse ela
local (município), de corpo social (clero, nobreza, povo) ou de ofício
(corporação), e este tecido de vida social não deixava espaços vazios
nem para os vagabundos que segundo a lei das Sesmarias já D. Fernando
compelia «à batalha da produção».
O medo e a curiosidade são comuns ao homem e ao animal,
mas, se neste são reacções momentâneas, a consciência daquele faz
nascer a ciência da curiosidade e do medo, a noção da precariedade
permanente da existência.
Esta insegurança trágica do ser humano não era então de
modo nenhum coberta pelos grupos naturais de interesses comuns de
vizinhança, cultivo e convívio. Daí a necessidade de recorrer aos
poderosos, sobretudo aos do poder legítimo, isto é, à realeza, cuja
legitimidade de origem religiosa dava outras garantias do que o simples
conde ou barão.
Pode dizer-se que o homem medieval era um homem sempre
integrado. Não havia marginais, nem desocupados, nem desempregados.
Esta integração, obra e serviço do Rei, foi a textura fecunda donde
nasceram as nações. E se aos nossos olhos modernos apresenta laivos
desagradáveis de sujeição, ela foi naquele tempo a única condição de
liberdade dentro de uma segurança possível. Mantinha os homens
relacionados uns com os outros, em contratos livremente aceites de
parte a parte e no jogo dos interesses e direitos, do clero, da nobreza
e do povo, o Rei equilibrava-se a si próprio, anulando abusos deste
corpo, fazendo prevalecer os direitos deste município ou daquele,
protegendo este nobre seu partidário ou aqueles burgueses de quem
precisava auxílio. E equilibrando-se a si próprio, trazia em harmonia a
nação que se ia consciencializando como unidade.
Feitas as nações, os preceitos idealistas nascidos da
Revolução Francesa sacudiram estas inclementes cadeias de privilégios e
contratos pois há muito que o poder real se abstinha de reunir as
Cortes, isto é, deixara de lado como supérfluo o conselho dos corpos da
nação e assumira a responsabilidade absoluta do seu cargo.
E assim a Revolução instalou o homem na sua dignidade
de homem só, à moda de Jean Jacques Rousseau, mas ao mesmo tempo que
libertava as gentes para a igualdade de uma só lei, deixava que a
fraternidade fosse engolida rapidamente pela plutocracia, o poder do
dinheiro, que já se vinha opondo ao poder da linhagem ou da terra e
encontrava assim caminho aberto.
E os homens libertos de correntes, de contratos e de obrigações,
puderam finalmente ficar apenas como mão-de-obra diante do capital. No
dealbar da era industrial foi o liberalismo, filho da Revolução
Francesa, que inventou o proletário.
IV - COMUNA URBANA E COMUNA RURAL
Na hora do desastre, só o enraizamento na história pode dar a confiança necessária para transformar o presente. - Ivan Illich
IV
Talvez convenha voltar atrás um pouco e considerar os
dois tipos de comuna, aquela que de facto encarnou o nome e o plasmou
na História, isto é, a comuna urbana dos burgueses, e a outra, a rural, o
concelho dos homens bons e vilões.
Foi a primeira que ao enriquecer-se no comércio ou
tomando poder com as corporações dos ofícios (não esqueçamos aqui os
espantosos privilégios dos burgueses do Porto em relação aos fidalgos
que na cidade nem sequer podiam pernoitar...) e sobretudo nas cidades
portuárias abertas aos ventos da Índia, carregadas de oiro e dispostas à
caldeação rápida de ideias novas que mais conviessem a uma
reestruturação da sociedade, correspondente ao novo jogo de forças, foi
esta comuna urbana, dizíamos, que perdeu o seu carácter comunitário
global e se transformou pouco a pouco em grupos de interesses
individuais.
A realeza participou desta preponderância de alguns
corpos da sociedade que desorganizava a antiga harmonia e para se manter
flutuante por sobre os fidalgos aburguesados e os burgueses
afidalgados, acentuou o poder real como direito divino em detrimento da
autoridade como serviço. E tornado absoluto, desembaraçando-se das
Cortes, o Rei cortou quase completamente a comunicação com os concelhos
rurais e as necessidades imediatas das regiões, do povo camponês e do
pequeno artesão.
Deste modo se dividiu Portugal em gente da abundância e
gente da carência, geograficamente situadas, um litoral exuberante
cortando caminho ao interior decadente, as urbes inchando-se
euforicamente na nova liberdade de enriquecer ao lado ou quase sempre à
custa dos outros.
Mas o absolutismo real não era o Estado totalitário. As
comunas rurais decerto já não tinham aos olhos do Rei aquela essencial
existência que era preciso guardar, acompanhar, vivificar para que
todo o Reino crescesse em 1ìberdade equilibrada, o que tantos cuidados e
solicitude lhe merecia e pedia, como mostram até ao séc. XVI e à longa
noite filipina as inúmeras disposições legais a seu favor.
O próprio povo disso tinha consciência. A restauração
de 1640 ainda foi ele, esse povo que guardava no seu sebastianismo
fruste e ingénuo a esperança da liberdade reencontrada na pessoa do Rei
escolhido. E embora a partir de D. Pedro II se tenha visto privado de
Cortes, ele bem sentia que a nova ordem que a aurora liberal lhe
prometia, centralizadora e eficiente, cortando os poderes ao Rei também
os cortava às Comunas.
Daqui o aparente paradoxo da devoção tocante por parte
do povo pelo Rei D. Miguel que finalmente viria a reunir Cortes à moda
antiga (1828), as últimas. Ele, rei absoluto, era ainda preferível como
interlocutor à nudez fria e burocrática do código administrativo do
Estado moderno.
A última Casa dos 24, a do Porto, foi encerrada em
1834. Tinham acabado as lusitanas antigas liberdades, os contratos, os
privilégios, os usos e costumes. Agora não mais havia do que pagar os
impostos e receber em silêncio as benesses da civilização.
(...)
publicada por B & N em "Lusitana Antiga Liberdade"


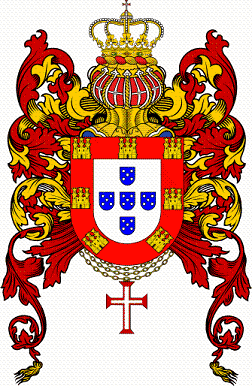










-JM.jpg)


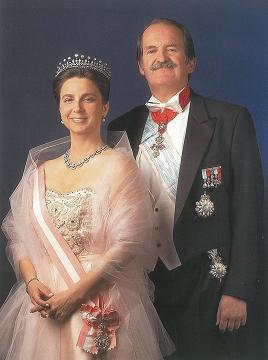

















.jpg)
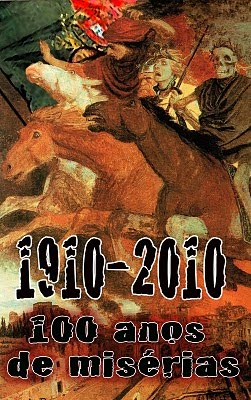







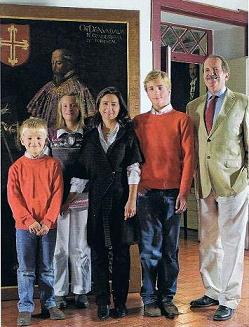

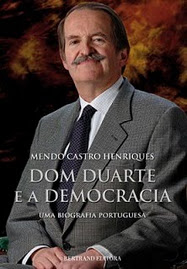




.jpg)














































.jpg)




Sem comentários:
Enviar um comentário